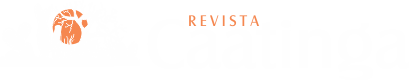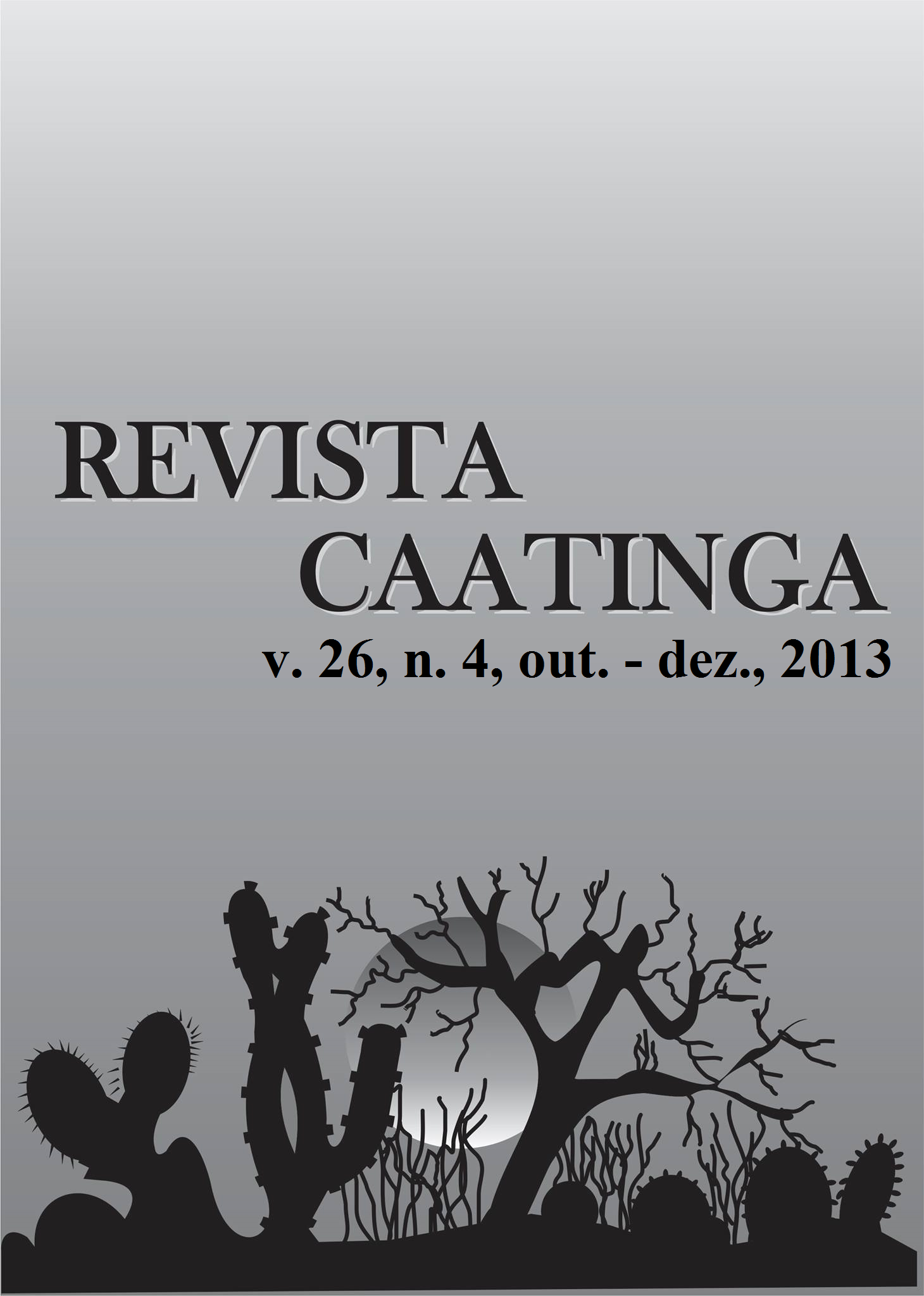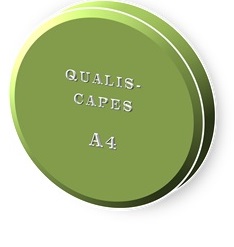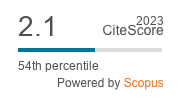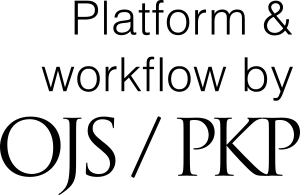CARACTERÍSTICAS DA CANA-DE-AÇÚCAR IN NATURA E HIDROLISADA COM CAL VIRGEM EM DIFERENTES TEMPOS DE ESTOCAGEM
Palavras-chave:
Saccharum officinarum, tratamento alcalino, valor nutritivoResumo
Objetivou-se avaliar a composição bromatológica e digestibilidade in vitro da matéria seca de cana-de-açúcar hidrolisada em diferentes tempos de estocagem. O experimento foi conduzido no setor de Forragicultura da UNIFENAS, campus de Alfenas (MG) em 2010. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 6, sendo testados dois tratamentos (cana-de-açúcar in natura e hidrolisada com 1,0% de cal virgem) em seis tempos de estocagem (0, 24, 48, 72, 96 e 120 horas), com três repetições. A cana-de-açúcar armazenada no estado in natura apresentou menores teores de MS, PB, FDN e FDA em relação à hidrolisada, no entanto, apresentou maiores porcentagens de MO e NDT. Os maiores coeficientes de digestibilidade in vitro da MS e MO foram observados na cana-de-açúcar que permaneceu no estado in natura, devido a melhor composição bromatológica apresentado por este tratamento. O armazenamento da cana-de-açúcar no estado integral (in natura) apresenta melhor composição bromatológica quando comparado à cana-de-açúcar hidrolisada, não sendo recomendado utilizar cal virgem, pois não atua positivamente nas características químico-bromatológicas dessa gramínea. A cana-de-açúcar in natura pode ser armazenada por até 96 horas após o corte, sem comprometimento da composição bromatológica.Downloads
Referências
ANDRADE, J. B. et al. Seleção de 39 variedades de cana-de-açúcar para a alimentação animal. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, São Paulo, v. 40, n. 4, p. 287-296, 2003.
CAPPELLE, E. R. et al. Estimativas no valor energético a partir de características químicas e bromatológicas dos alimentos. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 30, n. 6, p. 1837-1856, 2001.
DOMINGUES, F. N. et al. Estabilidade aeróbia, pH e dinâmica de desenvolvimento de microrganismos da cana-de-açúcar in natura hidrolisada com cal virgem. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 40, n. 4, p. 715-719, 2011.
EZEQUIEL, J. M. B. et al. Processamento da cana-de-açúcar: Efeitos sobre a digestibilidade, o consumo e a taxa de passagem. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 34, n. 5, p. 1704-1710, 2005.
FERREIRA, D. F. SISVAR: um programa para análises e ensino de estatística. Revista Científica Symposium, Lavras, v. 6, p. 36-41, 2008.
FREITAS, A. W. P. et al. Consumo de nutrientes e desempenho de ovinos alimentados com dietas à base de cana-de-açúcar hidrolisada. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 43, n. 11, p. 1569-1574, 2008.
GOERING, H. K.; VAN SOEST, P. J. Forage fiber analysis (Apparatus, reagents, procedures and some applications). Washington, DC: USDA, 1970. (Agricultural Handbook, 379).
JACKSON, M. G. The alkali treatments of straws. Animal Feed Science and Technology, Amsterdam, v. 2, n. 2, p. 105-130, 1977.
KLOPFENSTEIN, T. Chemical treatment of crop residues. Journal of Animal Science, Champaign, v. 46, n. 3, p. 841-849, 1978.
KLOPFENSTEIN, T. Increasing the nutritive value of crop residues by chemical treatments. In: HUBER, J. T. Upgrading residues and products for animals. Ed. CRC Press, 1980, p. 40-60.
KLOPFENSTEIN, T. J.; KRAUS, M. J. Chemical treatment of law quality roughages. Journal of Animal Science, Champaign, v. 35, p. 418-422, 1972.
MORAES, K. A. K. et al. Parâmetros nutricionais de novilhas de corte alimentadas com cana-de-açúcar tratada com óxido de cálcio e diferentes níveis de concentrado. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 37, n. 7, p. 1301-1310, 2008.
OLIVEIRA, M. D. S. et al. Efeito da hidrólise com NaOH sobre a digestibilidade in vitro da matéria seca da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.). ARS Veterinária, Jaboticabal, v. 18, n. 2, p. 167-173, 2002.
OLIVEIRA, M. D. S. et al. Digestibilidade da cana-de-açúcar hidrolisada, in natura e ensilada para bovinos. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 8, n. 1, p. 41-50, 2007.
OLIVEIRA, M. D. S. et al. Avaliação da cal hidratada como agente hidrolisante de cana-de-açúcar. Veterinária Notícias, Uberlândia, v. 14, n. 1, p. 9-17, 2008a.
OLIVEIRA, M. D. S. et al. Efeito da hidrólise com cal virgem sobre a composição bromatológica da cana-de-açúcar. Veterinária Notícias, Uberlândia, v. 14, n. 1, p. 19-27, 2008b.
PEDROSO, A. F. et al. Fermentation and epiphytic microflora dynamics in sugar cane silage.
Scientia Agricola, Piracicaba, v. 62, n. 5, p. 427-432, 2005.
PINTO, A. P. et al. Degradabilidade ruminal da cana-de-açúcar integral tratada com diferentes níveis de hidróxido de sódio. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 28, n. 3, p. 503-512, 2007.
RABELO, C. H. S. et al. Composição químico-bromatológica de cana-de-açúcar hidrolisada com cal virgem. Revista Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 4, p. 135-143, 2010a.
RABELO, C. H. S. et al. Composição químico-bromatológica e digestibilidade in vitro da matéria seca de cana-de-açúcar hidrolisada com cal virgem. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Salvador, v. 11, n. 4, p. 1137-1149, 2010b.
RABELO, C. H. S. et al. Estabilidade aeróbia em cana-de-açúcar in natura hidrolisada com cal virgem. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 12, n. 2, p. 257-265, 2011.
RIBEIRO, L. S. O. et al. Valor nutritivo da cana-de-açúcar hidrolisada com hidróxido de sódio ou óxido de cálcio. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 61, n. 5, p. 1156-1164, 2009a.
RIBEIRO, L. S. O. et al. Degradabilidade da matéria seca e da fração fibrosa da cana-de-açúcar tratada com hidróxido de sódio ou óxido de cálcio. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Salvador, v. 10, n. 3, p. 573-585, 2009b.
SANTOS, R. V. et al. Composição química da cana-de-açúcar (Saccharum SPP.) e das silagens com diferentes aditivos em duas idades de corte. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 30, n. 6, p. 1184-1189, 2006.
SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. 3.ed. Viçosa: UFV, 2002. 235 p.
TILLEY, J. M. A.; TERRY, R. A. A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal British of Grassland Society, London, v. 18, p. 104-111, 1963.
VAN SOEST, P. J. Nutritional Ecology of the Ruminant. 2nd Edition. Cornell University Press. Ithaca, NY, 1994. 476 p.
WIGGENS, L. F. Sugar-cane wax. Proceedings of Bristish World Industry Sugar Technology, London, p. 24-28, 1949.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Os Autores que publicam na Revista Caatinga concordam com os seguintes termos:
a) Os Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons do tipo atribuição CC-BY, para todo o conteúdo do periódico, exceto onde estiver identificado, que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista, sem fins comerciais.
b) Os Autores têm autorização para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
c) Os Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).